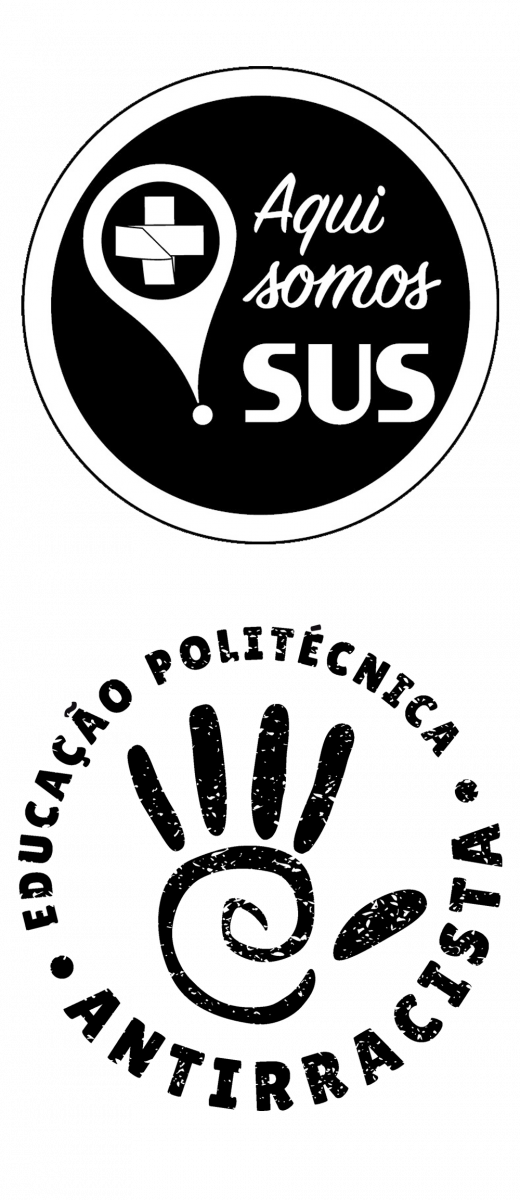Taylorismo
Cientista Social. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ) e Mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ/UCAM). Professor-pesquisador do Laboratório de Trabalho e Educação Profissional em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fio-cruz (Lateps/EPSJV/Fiocruz).
O taylorismo refere-se a um conjunto de ideias e orientações práticas, formuladas por Frederick Winslow Taylor (1856-1915), voltadas para a organização do trabalho, principalmente industrial, visando o aumento da eficiência e da produtividade pelo controle minucioso do tempo e dos movimentos executados pelos trabalhadores em suas atividades laborais. Surge no final do século XIX e se expande rapidamente no começo do século XX, no contexto das vertiginosas transformações por que passava a sociedade capitalista neste período. Dentre elas destacam-se o rápido processo de industrialização, o acirramento da concorrência internacional, a proliferação dos grandes monopólios fabris e financeiros, a intensa inovação tecnológica, a ampliação devastadora dos domínios coloniais, mas também o aumento expressivo da organização operária em sindicatos e partidos socialistas e, consequentemente, o aprofundamento das lutas de classe.
Neste cenário, a burguesia se viu diante de duas necessidades prementes. Em primeiro lugar, vencer a concorrência contra seus pares nos mercados nacionais e estrangeiros, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção das mercadorias, inclusive da mercadoria força de trabalho. Em segundo lugar, vencer a resistência do proletariado organizado, desarticulando, num nível mais geral, sua mobilização sindical e partidária, mas também, numa dimensão mais elementar, suprimindo o domínio que os trabalhadores ainda conseguiam manter sobre o próprio processo de trabalho, a despeito de terem sido desapropriados dos meios de produção. Esse domínio lhes garantia, ainda que de forma limitada, algum poder de barganha, sobretudo aos operários mais qualificados da indústria. É precisamente neste contexto que o taylorismo adquire relevância histórica.
Taylor foi um engenheiro mecânico e escritor estadunidense, considerado por muitos como o fundador da moderna “gerência científica”. Nascido de família abastada, ainda jovem decidiu abandonar o caminho da formação universitária e se inseriu no trabalho industrial, seguindo como operário principalmente do ramo metalúrgico. Tornou-se seu interesse – ou talvez, sua obsessão – a eficiência laboral no processo produtivo, o que o levou ao cargo de engenheiro chefe em 1881 numa Companhia Siderúrgica, onde conduziu uma série de experimentos a fim de incrementar a produtividade dos operários sob seu comando. Ele acreditava que o processo de trabalho deveria ser examinado racionalmente de forma a otimizar os tempos de execução das operações realizadas pelos trabalhadores, por meio do controle minuciosamente cronometrado de seus movimentos.
A compreensão de Taylor era que os trabalhadores estavam muito aquém do que considerava ser um “ótimo dia de trabalho”, isto é, uma jornada integralmente dedicada à atividade produtiva sem qualquer desperdício de tempo nem de energia. Era necessário, segundo sua visão, lutar contra o “marca-passo” dos operários, seja o que chamava de “marca-passo natural”, quer dizer, sua tendência espontânea a ficar à vontade e poupar esforço, seja o que nomeou de “marca-passo sistemático”, isto é, a contenção ou redução coletivamente deliberada do ritmo de trabalho com o propósito de manter patrões e gerentes ignorantes sobre o real processo de trabalho. Contra tal estratégia, usada pelos trabalhadores como forma de proteger seus empregos e salários, a gerência tradicional, que buscava incrementar o desempenho dos operários por meio de disciplina e incentivos, quase nada podia fazer, precisamente porque estaria em franca desvantagem em relação à perícia e aos conhecimentos acumulados pelos trabalhadores, em muitos casos ao longo de várias gerações.
Desta forma, o principal objetivo da chamada “gerência científica” seria se apropriar desses conhecimentos a fim de subordiná-los ao objetivo da acumulação de capital, retirando dos trabalhadores qualquer controle sobre o processo produtivo e ditando, em seu lugar, de forma rigorosa e precisa, o modo de execução de todas as atividades laborais em cada uma das etapas da produção, eliminando os “tempos mortos” da jornada de trabalho, como deslocamentos e mesmo gestos considerados desnecessários, a fim de ampliar a produtividade e, portanto, a margem de lucro, até o limite permitido pelo estágio de desenvolvimento tecnológico existente.
Assim, o taylorismo se estruturou em torno de alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, esse sistema de organização capitalista do trabalho preconizava a dissociação máxima do processo de trabalho fabril em relação às especialidades e qualificações incorporadas às experiências dos trabalhadores. O processo de trabalho deveria se tornar independente de qualificações tradicionais de ofício para ser reduzido a regras e fórmulas. A gerência moderna deveria substituir os tradicionais métodos empíricos de controle formal do trabalho baseados na premissa do incentivo, que deixavam aos trabalhadores uma margem elevada de capacidade decisória, pelo método científico, fundado no controle real do ritmo de trabalho a partir da sistematização racional e uniforme de todos os conhecimentos necessários à sua execução. Em segundo lugar, o taylorismo, reivindicando a antiga separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, prescrevia que todas as funções de concepção e planejamento fossem desempenhadas exclusivamente pela administração, cabendo aos trabalhadores tão-somente executar instruções previamente elaboradas por outros, não apenas por serem estes os seus superiores hierárquicos, mas também por serem considerados mais aptos a desenvolver uma verdadeira ciência do trabalho. Em terceiro lugar, o taylorismo estabelecia que esse monopólio do conhecimento sobre o processo de trabalho deveria ser utilizado para fracionar a sua execução em etapas cada vez mais simples, de modo a garantir não apenas o controle mais rígido e minucioso sobre o ritmo célere da produção, mas também o treinamento mais ligeiro de novos operários, que, assim, privados do conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo, tornar-se-iam, na prática, descartáveis e facilmente substituíveis (Rago, 1984; Pinto, 2007).
O taylorismo, por atender aquelas duas necessidades fundamentais da burguesia em expansão (ampliando a produtividade da indústria, e reduzindo, ao mesmo tempo, o controle do proletário sobre o processo produtivo), teve um impacto decisivo na formulação das modernas práticas gerenciais capitalistas. Foi largamente adotado no século XX, tendo sido um dos esteios sobre os quais se erigiu o modelo fordista-keynesiano que ajudou a regular a economia capitalista mundial do fim da Segunda Guerra até a sua crise na década de 1970, momento a partir do qual o sistema passou por uma profunda reestruturação produtiva com a ascensão do neoliberalismo e a introdução de novas práticas gerenciais, como o Toyotismo (Harvey, 2005).
Contudo, o taylorismo jamais deixou de sofrer a oposição do proletariado e sempre foi alvo de severas críticas. A principal delas era de que o taylorismo aguçava ao extremo o fenômeno da desumanização capitalista do trabalho, cindindo em polos completamente distintos duas dimensões constituintes do trabalho humano: a concepção intelectual e a execução manual. Evidentemente a separação entre o pensar e o fazer, assim como, correlatamente, a oposição entre o mandar e o obedecer, é algo que acompanha toda a história da humanidade desde que esta passou a se dividir em classes sociais. A terrível novidade representada pelo taylorismo reside na disjunção radical entre essas duas esferas vitais à existência humana. Conforme observou o crítico social Harry Braverman (1980, p. 113), “ao estabelecer relações sociais antagônicas, de trabalho alienado, mão e cérebro tornam-se não apenas separados, mas subdivididos e hostis, e a unidade humana de mão e cérebro converte-se no seu oposto, algo menos que humano”. Um dos efeitos provocados pela brusca ruptura taylorista da unidade natural do trabalho humano foi a progressiva conversão dos trabalhadores em simples apêndices da engrenagem industrial, aprofundando aquilo que Karl Marx certa vez denominara de “subsunção real do trabalho ao capital” (Marx, 2023), isto é, a expropriação dos trabalhadores não apenas de seus meios de produção da existência, o que já caracterizaria a subsunção formal do trabalho ao capital, mas também de seus conhecimentos. Neste sentido, com o advento do taylorismo, “não apenas o capital é propriedade do capitalista, mas o próprio trabalho tornou-se parte do capital” (Braverman, 1980, p. 107). Desta forma, o mundo do trabalho tornou-se cada vez mais opaco e despido de qualquer sentido para os trabalhadores. A guerra do taylorismo ao “tempo morto” na produção foi, na verdade, uma guerra aos últimos resquícios de tempo livre do trabalhador durante sua jornada de trabalho, bem como um ataque a sua autonomia, criatividade e capacidade de apreender e dirigir o processo produtivo da moderna indústria.
Especificamente no que se refere à organização do trabalho no campo da saúde, até hoje o modelo gerencial taylorista ainda possui forte influência, em especial no ambiente hospitalar, embora não se aplique uniformemente a todas as áreas de atuação profissional. A enfermagem é historicamente o ramo da saúde onde o taylorismo mais fundo fincou as raízes. Já no início da segunda metade do século XIX a modernização da enfermagem defendida pela britânica Florence Nightingale (1820-1910) já havia aproximado suas práticas não só dos conhecimentos científicos então aceitos (como a teoria miasmática, que recomendava a iluminação e ventilação de hospitais), como também das práticas mais racionais de organização do trabalho observadas na grande indústria, tendência que se acentuou com o advento da gerência científica taylorista (Matos; Pires, 2006). São traços marcantes desta influência a divisão do trabalho em tarefas, a fragmentação da assistência, a ênfase exagerada nos procedimentos, rotinas e escalas em atendimento mais às normas hospitalares do que às necessidades dos doentes, a centralização hierárquica das decisões na chefia da enfermagem, e a subordinação dos profissionais técnicos a um conjunto impessoal de regras que o alienam dos cuidados assistenciais. O sistema taylorista de administração do trabalho na saúde há tempos vem sendo contestado por outras perspectivas organizacionais, em particular, no Brasil, depois da Reforma Sanitária. Estas denunciam tanto a sua ineficiência na organização de uma força de trabalho cada mais flexibilizada, como a sua incapacidade de avaliar resultados em modelos assistenciais descentralizados como o SUS, além de reivindicarem, em suas vertentes mais progressistas, estratégias administrativas mais horizontais e participativas, condizentes com os princípios da equidade, integralidade e universalidade dos serviços de saúde (Matos; Pires, 2006).
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. A degradação do trabalho no século XX. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.
HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo, Edições Loyola, 2005. 14ª edição.
MARX, Karl. O Capital. Crítica da economia política. Livro 1. São Paulo, Boitempo, 2023.
MATOS, Eliane; PIRES, Denise. Teorias administrativas e organização do trabalho: de Taylor aos dias atuais, influências no setor saúde e na enfermagem. Texto &Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 508-514. jul./set. 2006. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000300017. Acesso em: 18 de jan. 2024.
PINTO, Geraldo. A organização do trabalho no século 20. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. São Paulo, Expressão Popular, 2007.
RAGO, Luiza Elizabeth. O que é taylorismo? São Paulo, Brasiliense, 1984.
Como citar: LUIZ; Jose Victor R. Taylorismo [Verbete]. In: Glossário da pesquisa Desafios do Trabalho na Atenção Primária à Saúde na Perspectiva das(dos) Trabalhadoras(es). Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2023. Disponível em: ____________. Acesso em: ___________.