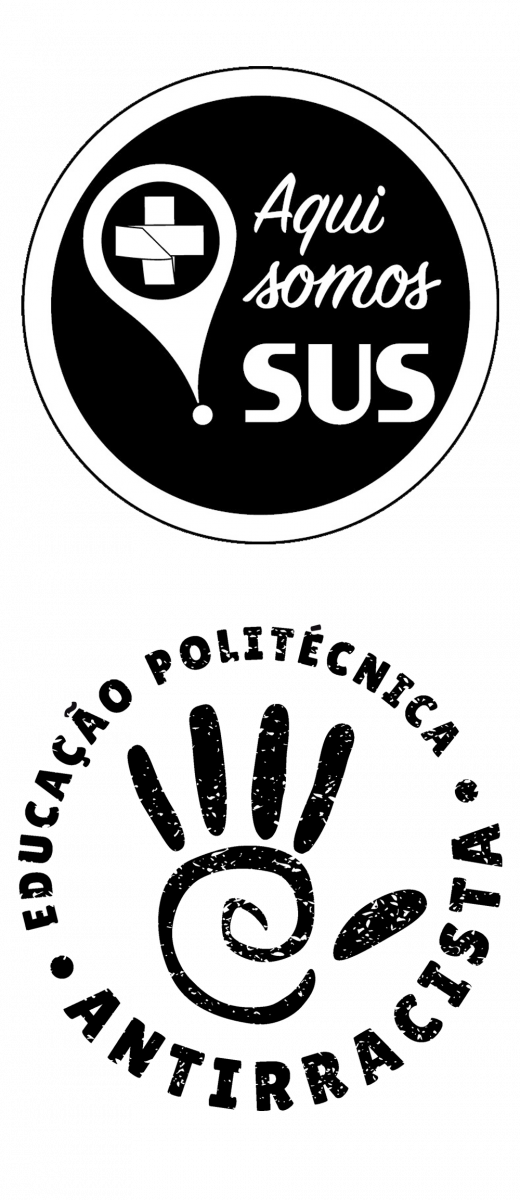Pesquisa
O que é a pesquisa?
“Desafios do Trabalho na Atenção Primária à Saúde na Perspectiva das(os) Trabalhadoras(es)” é uma pesquisa que associa a produção e a disseminação do conhecimento produzido sobre a configuração do trabalho na APS, a partir do diálogo com os trabalhadores que atuam na Estratégia Saúde da Família em cinco capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Palmas e Porto Alegre.
Objetivos
A pesquisa “Desafios do Trabalho na Atenção Primária à Saúde na Perspectiva dos Trabalhadores” tem como objetivo investigar a configuração do trabalho na Atenção Primária à Saúde, a partir da percepção dos trabalhadores que atuam na Estratégia Saúde da Família nos municípios Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Palmas e Porto Alegre, com enfoque nas mudanças produzidas a partir da PNAB 2017 e da pandemia de Covid-19 e o aporte de dados quantitativos de fontes de acesso público.Metodologia
A pesquisa “Desafios do Trabalho na Atenção Primária à Saúde na Perspectiva dos Trabalhadores” tem caráter qualitativo, com aporte de informações quantitativas sobre o trabalho em saúde, a partir da análise de bancos de dados nacionais. Seu desenho está dividido em três eixos de investigação: 1) das informações de acesso público disponíveis nos bancos de dados que permitem a caracterização do trabalho no Brasil e, em específico na saúde pública, no âmbito da ESF; 2) dos documentos políticos e normativos da Atenção Básica em Saúde, com inflexões sobre o trabalho na ESF, ou que têm por objeto específico esse trabalho; 3) da narrativa dos trabalhadores, construídas a partir de entrevistas online, realizadas fora do horário de expediente e do local de trabalho, sobre as condições em que realizam suas atividades laborais. O primeiro eixo de investigação corresponde à dimensão quantitativa da pesquisa que abrange a prospecção, sistematização e análise de informações em bases de dados nacionais que disponibilizam dados sobre o trabalho e, em particular sobre o trabalho na Estratégia Saúde da Família. As principais fontes de dados utilizados são o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o e-Gestor e os portais de transparência dos municípios campo da pesquisa. O segundo eixo, corresponde à análise da produção política e normativa. Compõe-se da seleção, organização, sistematização e análise dos documentos de caráter legislativo, normativo e político, por meio do qual se acessam as mudanças no quadro geral de regulamentação do trabalho e, em específico, das diretrizes para o trabalho na AB. São considerados relevantes para o estudo, os documentos produzidos pelas instâncias legislativas nos diversos níveis, pelas diferentes esferas de gestão, que repercutem na conformação e no trabalho na AB. O terceiro eixo enfoca a percepção dos trabalhadores sobre a organização do processo de trabalho, características das práticas, objetivos, relações e condições do trabalho na ESF, com destaque para as mudanças advindas do contexto pandêmico. O procedimento principal neste eixo são as entrevistas com trabalhadores que compõem a equipe mínima da ESF (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) nos municípios estudados. O diálogo com os trabalhadores é baseado num roteiro semiestruturado e realizado online, por meio do Teams, Zoom, Meet ou Whatsapp, seguindo os critérios éticos definidos para a salvaguarda dos sujeitos participantes.Resultados
A ampliação do direito à saúde associado à expansão da Atenção Básica (AB), contraditoriamente, se fez à custa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores cujo trabalho viabilizou a ampliação do acesso à saúde. A terceirização foi amplamente empregada, com formas mais ou menos providas de direitos, assim como foi difundida a ideologia gerencialista na gestão dos serviços e organização do trabalho que sobrevaloriza os resultados mensuráveis em detrimento de processos não quantificáveis, de caráter intersubjetivo e fundamentais para o cuidado em saúde. As metas da gestão foram se impondo às metas do cuidado e transformando o processo de trabalho das equipes. Por exemplo, adotando indicadores de linha de cuidado mínimos que não condizem com a perspectiva da integralidade, reduzindo a duração das consultas para o atingimento da meta definida por turno, retirando tempo de trabalho nos territórios, de visitas domiciliares e atividades educativas, principalmente das e dos ACS e da equipe de enfermagem, em favor do cumprimento de atividades de registro ou burocráticas, entre outros.
No contexto mais recente, outras questões surgiram ou foram reforçadas a partir das alterações nas políticas relativas à AB, desde a publicação da PNAB 2017, que trazem implicações para o modelo de atenção, a organização e a gestão dos serviços. Ampliam a precarização do trabalho, ao mesmo tempo em que restringem o direito à saúde. Tais mudanças se associaram ao sofrimento e desgaste produzidos no trabalho de enfrentamento à pandemia de Covid-19, assim como diante do agravamento das condições sanitárias e sociais da população brasileira, intensificando as dimensões objetivas e subjetivas do trabalho em saúde estudadas na pesquisa aqui relatada.
A precarização, nesta pesquisa, foi analisada em relação às suas dimensões mais objetivas, relacionadas às modalidades de contratação, direitos associados e condições de trabalho, e às dimensões mais subjetivas, como as relações estabelecidas no trabalho.
A análise dos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sobre os cinco municípios estudados revela a existência de uma grande variedade de modalidades de contratação de trabalhadoras e trabalhadores na AB. Essa diversidade abrange inserção com níveis mais estáveis e seguros, como as trabalhadoras e trabalhadores contratados como Estatutário, até aquelas e aqueles registrados como Autônomo e Bolsista, cujos direitos são muito limitados ou inexistentes. A diversidade é maior entre os vínculos de trabalho das categorias profissionais de nível superior – médicas e médicos, e enfermeiras e enfermeiros – e difere também entre os tipos de equipe, com maior variação nas equipes de Saúde da Família. Palmas, Recife e Salvador são municípios que adotam a gestão direta dos serviços de AB, sendo a Prefeitura a principal agente contratante de trabalhadoras e trabalhadores nesse nível de atenção. Nesses municípios, prevalece a modalidade de contratação mais segura e estável – Estatutário. Já, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, que adotam a terceirização como modelo de gestão da AB, a modalidade Intermediado celetista prevalece. No Rio, onde predomina a ESF sustentada na gestão por OS, a Intermediado celetista abrange a quase totalidade dos vínculos de trabalho. Em Porto Alegre, onde o modelo das eAPs tem avançado, junto com o processo de terceirização da gestão, a modalidade Intermediado celetista corresponde a pouco mais da metade dos vínculos de trabalho estudados e há maior variedade de formas de contratação.
Em relação aos tipos de equipe – eSF e eAP – confirma-se o que as eAPs, validadas pela PNAB 2017 e pela Portaria nº 2.539/2019, estão presentes na AB, sendo proporcionalmente mais significativas em Salvador, seguida de Porto Alegre.
Em Recife, não há eAPs, em Palmas, há apenas uma e, no Rio de Janeiro, são inexpressivas frente ao total de eSFs. No Rio e em Salvador, chama a atenção a alocação de profissionais contratados como Estatutários nessas equipes, o que sugere ser uma estratégia para aproveitar a possibilidade de financiamento dessas equipes aberta pela política pública a partir de 2017. Em Porto Alegre, a maioria dos vínculos das trabalhadoras e dos trabalhadores nas eAPs é terceirizada.
As eAPs estão associadas à diminuição da presença das e dos ACS na AB, na medida em que prescindem dessas e desses profissionais ou as e os incorporam em número muito reduzido, o que altera o escopo e as condições de realização do seu trabalho. Essa associação contribui para o afastamento em relação ao modelo de APS baseado na ESF orientada pela determinação social do processo saúde/doença, a atenção integral e territorializada, com enfoque comunitário e cuidado longitudinal.
Outra informação preocupante diz respeito à situação de auxiliares, técnicas e técnicos de enfermagem em duas localidades – Palmas e Recife. Nesses municípios, a ausência dessas e desses profissionais em algumas eSFs e eAPs pode representar a existência de sobrecarga de trabalho para a equipe, em especial, para a enfermagem. Cabe lembrar que o trabalho de auxiliares, técnicas e técnicos envolve atividades que zelam pela ambiência e biossegurança de espaços da UBS, bem como a execução de procedimentos, acolhimento e outras ações, na unidade e no território, que promovem a ampliação do acesso da população a serviços e cuidados essenciais. Destaca-se também a relevância do seu trabalho para o processo de retomada da cobertura vacinal.
Compreendendo a importância estratégica das políticas relativas ao trabalho em saúde, ressalta-se a necessidade de adoção de parâmetros adequados para a composição da equipe de enfermagem, tanto quanto das e dos demais trabalhadoras e trabalhadores, como caminho para o equilíbrio entre a força de trabalho e as necessidades de saúde da população.
Em todos os municípios estudados, nota-se que a maioria dos vínculos de enfermeiras, enfermeiros, médicas e médicos registrados como Residentes estão relacionados à ESF, o que demonstra a priorização desse modelo de atenção para a formação de especialistas na AB. Alerta-se para a necessidade de se verificar a existência de supervisão e a garantia do processo formativo associado ao trabalho. Caso contrário, este tipo de vinculação termina por se reduzir ao aporte de profissionais para a ESF, configurando uma situação que amplia os problemas da rotatividade de trabalhadoras(es) e ausência dos devidos direitos trabalhistas.
Em Palmas fica evidente a utilização de profissionais residentes para o provimento de força de trabalho na ESF, pois não há outras e outros profissionais da mesma categoria compondo as equipes em que estão inseridas e inseridos estas e estes trabalhadores. Nos outros municípios, a presença de profissionais não residentes parece apontar para um maior equilíbrio da relação entre formação e trabalho.
A residência, por sua característica de integração ensino-serviço, pode, por um lado, colaborar para a qualificação dos processos de trabalho das equipes, mas, por outro, pode acarretar intensificação do trabalho das e dos profissionais que precisam acrescentar o trabalho de preceptoria às suas atividades laborais. Além disso, o caráter temporário da inserção das e dos residentes pode prejudicar o vínculo esperado com a população e a continuidade do cuidado, diretrizes centrais do modelo Saúde da Família.
De um modo geral, as informações sistematizadas apontam para a necessidade de se priorizar a desprecarização do trabalho na Atenção Básica, assim como para a urgência da reversão do processo de terceirização da gestão. Entende-se que esses processos se retroalimentam e estão fortemente relacionados às transformações operadas no modelo de atenção desde a PNAB 2017, com sentido biomédico e privatizante.
No que diz respeito às dimensões subjetivas da precarização, analisamos situações relativas a três eixos de questões: 1) O trabalho na pandemia; 2) O trabalho diante da crise social e sanitária; 3) O trabalho diante das mudanças na organização das equipes e da rede.
No eixo "trabalho na pandemia", identificou-se a necessidade de adaptação à reorganização do processo de trabalho; a falta de informação e capacitação para o trabalho durante a pandemia; a dificuldade de acesso a equipamentos de proteção individual em quantidade e qualidade adequadas; a necessidade de lidar com a morte (algo, até então menos frequentes na APS); a intensificação do trabalho pelo adoecimento e afastamento de colegas; a suspensão de férias e a diminuição do tempo para descanso o que aumentou ainda mais o desgaste provocado pelo trabalho.
No eixo "Trabalho diante da crise social e sanitária", destacou-se o agravamento das condições clínicas dos usuários e pelo surgimento de novas condições clínicas (derivadas ou não da Covid-19) associadas à deterioração das condições econômicas e sociais. Identificou-se uma nova intensificação do trabalho decorrente da piora nas condições de saúde da população.
No eixo Trabalho diante das mudanças na organização das equipes e da rede, foram especialmente importantes a nova configuração do trabalho, com a criação ou o crescimento de equipes do tipo “Atenção Primária” que representa uma inflexão em direção a um modelo de atenção que se afasta das diretrizes da ESF; a reconfiguração do trabalho pela diminuição da presença das e dos ACS nas equipes – seja de eSF ou nas eAPS que já não preveem essa trabalhadora e trabalhador em sua composição; o desmonte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que representava uma rede de suporte às equipes para o cuidado multidisciplinar; as dificuldades de encaminhamento para outros âmbitos de atenção, problema crônico agravado com as situações decorrentes da Covid-19 e do pós-Covid, envolvendo as transmorbidades e a sindemia.
As trabalhadoras e os trabalhadores entrevistados, em geral, demonstraram apreço e compromisso pelo trabalho e o reconhecimento da importância da APS frente aos desafios produzidos pela crise sócio-sanitária. O afastamento em relação ao modelo de atenção da ESF tem se dado com custos objetivos – de modificação do escopo do trabalho dos diferentes profissionais – mas também subjetivos, com estranhamento e insatisfação em relação ao que fazem e o que gostariam ou consideram que deveriam estar fazendo.
As tensões que recaem sobre a ESF, associadas às mudanças nas políticas sociais e ao contexto pandêmico, promoveram deterioração das condições e relações de trabalho, com efeitos objetivos e subjetivos que vulnerabilizam os trabalhadores. Destacou-se o sofrimento decorrente das dificuldades de realização do trabalho nos moldes de qualidade identificados com a APS integral, territorializada e participativa e para a efetivação do direito à saúde. Notou-se o efeito positivo das ações de solidariedade e resistência, com dimensões variadas, tanto de apoio material e emocional oferecido entre colegas ou por usuárias e usuários, como a organização coletiva, por meio de sindicatos e movimentos sociais em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, do direito à saúde e contra a privatização do SUS.
O resgate da Saúde da Família como estratégia central para a organização da Atenção Básica requer a recomposição de sua força de trabalho, numa perspectiva multidisciplinar e a retomada do número de ACS por equipe, de modo a recuperar a integralidade como diretriz do cuidado e as condições para a realização do trabalho de base territorial e orientação comunitária. Esse processo exigirá o fortalecimento da gestão pública, a desconstrução da perspectiva gerencialista de gestão do trabalho e a retomada da modalidade Estatutário como orientadora das relações que caracterizam o trabalho estável e seguro, com a provisão de remuneração e direitos condizentes com o valor social a que aquelas e aqueles que se dedicam à saúde pública fazem jus.